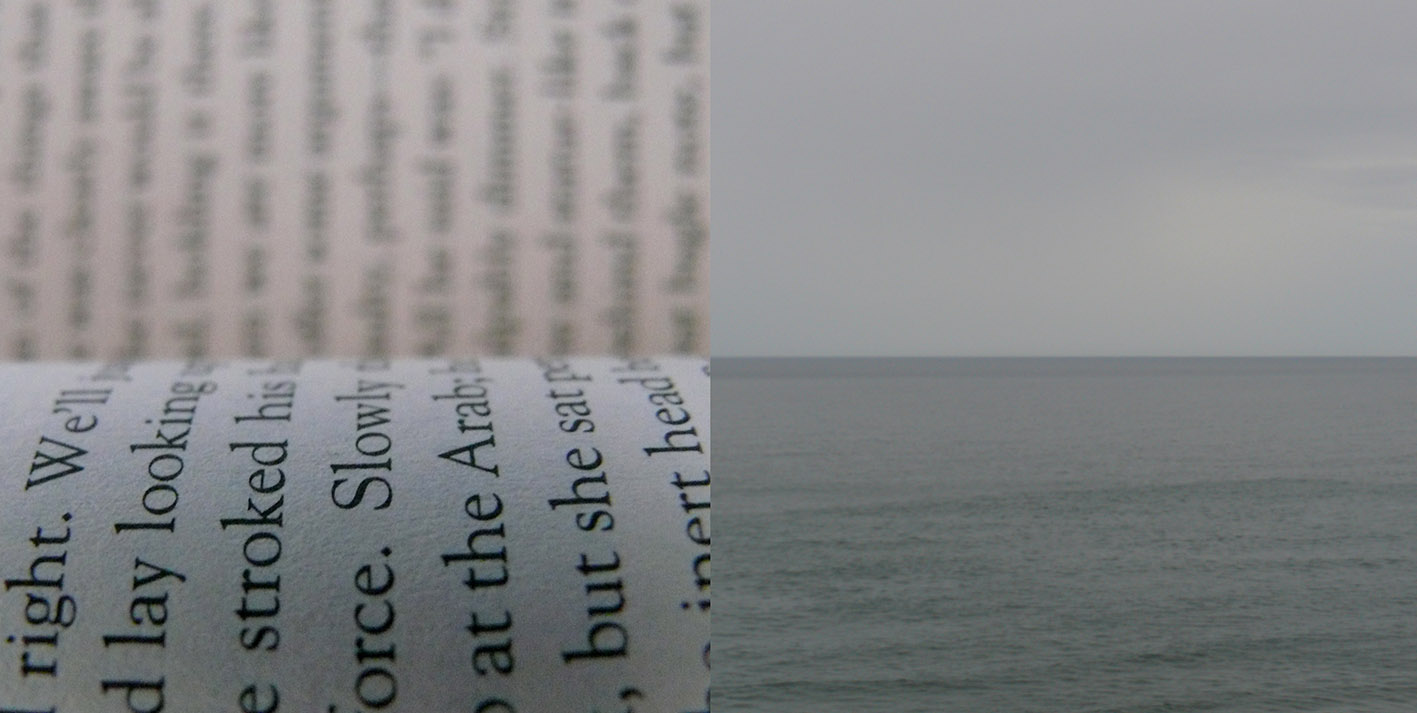
O advento da arte moderna na segunda metade do século XIX está atado a uma expansão dos discursos em torno da arte. A crescente oferta de textos e falas – críticas, ensaios, biografias, manifestos – inclui também as entrevistas com artistas. Pouco a pouco, ao longo do século XX, sobretudo a partir dos anos 1950, precisamente quando começam a rarear os textos mais programáticos, aqueles em que os artistas anunciavam seus projetos de ação, ganha mais e mais força a prática da entrevista.
Nas duas décadas seguintes, na guinada do moderno para o contemporâneo, as entrevistas passam a ser pensadas como fontes mais diretas de contato com o pensamento dos artistas. É como se a conversa parecesse, quando não uma alternativa, ao menos um complemento aos textos de críticos, historiadores e até mesmo teóricos. Na expressão de Gabrielle Detterer, as entrevistas expressam “o desejo de uma comunicação transparente”. Anota a crítica e entrevistadora italiana: “Declarações e entrevistas (…) não oferecem soluções e interpretações definitivas; são documentos que auxiliam a pessoa interessada em arte a fazer uma abordagem metódica do processo de criação, e são fontes a serem exploradas na busca por respostas às perguntas sobre a origem e os determinantes das obras de arte”[1].
Nas entrevistas a seguir, três jovens artistas – Andrei Rubina Thomaz, Daniel Escobar e Marina Camargo – apresentam não leituras exclusivistas e irrefutáveis sobre seus próprios trabalhos. Ao contrário. No diálogo com outro, eles partilham dúvidas, discutem as origens possíveis de suas obras e seus interesses, revisam os percursos de formação e invenção artística. As distâncias (estava cada um em uma cidade diferente: Andrei em São Paulo, Daniel em Belo Horizonte, Marina em distintos pontos da Alemanha, o entrevistador em Porto Alegre) levaram à escolha pelo formato do e-mail. O ritmo é diverso daquele da conversa presencial, as respostas podem ser mais refletidas, mais pensadas, mas, de qualquer jeito, não se perde o tom espontâneo, nem o sabor do encontro. Na comparação entre uma entrevista e outra, emergem as grandes diferenças mas também as aproximações entre os três artistas. Mais do que tudo, consolida-se o desejo de uma comunicação transparente.
Eduardo Veras, verão de 2011
[1] DETTERER, Gabriele (org.). Art recollection – Artists’ interviews and statements in the Nineties. Ravena: Danilo Montanari / Exit / Zona Archives Editori, 1997.
ENTREVISTA COM MARINA CAMARGO (realizada em 2011)
Eduardo Veras: Vamos começar com alguns dados mais biográficos: onde nasceste? O que os teus pais faziam?
Marina Camargo: Então comecemos pelas origens! É curioso começar falando da minha vida, normalmente deixo essas informações de lado e trato de outras origens do meu trabalho (como origens conceituais, de questões que são importantes para os trabalhos que vim a fazer depois, por exemplo).
Nasci em Maceió, Alagoas, e a certa altura da minha infância nos mudamos para Porto Alegre. Essa mudança foi realmente marcante para mim, mas só vim a perceber isso em outras mudanças que aconteceram no futuro. Cada vez que vou morar noutra cidade, mesmo que temporariamente, fica claro para mim que minhas origens não estão apenas em Porto Alegre, mas também noutros lugares, como no nordeste do Brasil. As praias e parques de diversões de cidade de interior (seja no sertão ou em praias como Paripueira), o circo, que era um programa indispensável numa cidade sem muitos atrativos além das praias, e, claro, muito mar, mar, mar. Mesmo hoje, quando chego numa cidade que ainda não conheço, muitas vezes minhas referências acabam se situando lá nas temporadas em Paripueira.
Não sou de família de artistas – minha mãe é farmacêutica e meu pai engenheiro agrônomo. Minha mãe tinha família no Sul e por isso nos mudamos para Porto Alegre.
Essa mudança de cidade e o contínuo vai-vem entre ambas em época de férias (deixando amigos, família e histórias em cada lado do país), acho que acabaram tornando-me meio desterrada, mas num bom sentido. Porto Alegre é a cidade onde tive praticamente toda a minha formação, mas não é exatamente onde está toda a minha história.
Há mais de 20 anos, Maceió era uma cidade de interior, com poucos eventos culturais. Quando nos mudamos para Porto Alegre (minha mãe, eu e minha irmã), minha mãe nos levava a todos os espetáculos possíveis, óperas a shows de música popular, peças de teatro, exposições, etc. Porto Alegre era para mim uma cidade extremamente estimulante.
O que teria sido o teu despertar para a arte? Em que momento percebeste que algo era arte e que talvez te interessasse fazer aquilo?
Não saberia precisar em que momento comecei a me interessar por arte. Minhas lembranças mais remotas são do jardim de infância, numa escola montsoriana, onde lembro de ter uma grande liberdade e individualidade para fazer as minhas coisas (não diria arte…). A experiência de autonomia e criatividade é certamente marcante. No entanto, não saberia – nem arriscaria – definir o que faz um artista se interessar em ser um artista.
Em torno dos 15 anos de idade, voltei a fazer cursos de artes, quando comecei a pintar e ler tudo o que podia sobre história da arte. A vontade de cursar o Instituto de Artes da UFRGS veio de uma certeza que eu tinha desde aquela época de que a arte não podia ser apenas uma atividade eventual para mim.
Naquele momento, eu não tinha a menor idéia de como poderia sobreviver de arte, mas sabia que era isso o que eu queria fazer.
Por fim, acho que a arte era mesmo fundamental na minha vida, como uma necessidade talvez, algo que é o centro, o eixo mesmo da vida – embora eu resista um pouco a dizer isso, por causa do tom um tanto romantizado que evoca…
O que foi decisivo na tua passagem pela graduação no Instituto de Artes, em Porto Alegre?
O que foi marcante na passagem pelo Instituto de Artes foi essencialmente a consciência em termos de questões próprias da arte. Não a questão histórica (também importante), mas principalmente a questão crítica em relação à arte e ao sistema de arte (não em relação à crítica, mas sim em termos de uma construção de um pensamento crítico voltado para o próprio trabalho do artista).
É esse pensamento crítico em relação ao próprio trabalho que desvia o artista de um fazer-por-fazer? Pergunto isso por que teu trabalho em geral parece cuidadosamente construído e planejado. Se há, ali, alguma potência do acaso em jogo (penso, por exemplo, naquelas fotografias em que recolhes com as mãos as letras que se desprenderam das lâminas de acetato), ela diz respeito mais a um momento inicial do trabalho, e nunca à sua configuração final.
Não saberia dizer como o pensamento crítico altera “o fazer” do artista, mas certamente altera a maneira do artista se situar no mundo, na história da arte, num contexto de arte contemporânea. Em meu processo, não percebo essa oposição nítida entre um fazer-por-fazer e um fazer-crítico, por exemplo. E falo isso pensando nos tantos trabalhos que, no momento desse “fazer”, pareciam sem sentido. Esse mesmo sentido se fez claro depois, em relação a outros trabalhos e mesmo a questões críticas ou intrínsecas ao próprio trabalho. Ou seja, esse fazer-por-fazer pode ser muito importante no processo de trabalho do artista e, durante esse processo, surgem as questões mais importantes para o trabalho e para a investigação do artista.
Quer dizer, até aqui falei de processo de trabalho. Mas é importante falar também que esse processo se dá entre muitas escolhas, experimentações, algo como ir “tateando” até que, em certo momento, encontra-se uma configuração mais precisa (seja entre formas, imagens, idéias, pensamentos, referências, etc).
Concordo com você quando diz que o acaso no meu trabalho parece estar mais nesse momento inicial. Há vários trabalhos que se originaram de situações totalmente imprevisíveis, incontroláveis, e que marcaram muito a minha produção. Essas fotografias das letras caindo da transparência é um ótimo exemplo disto.
Foi uma situação que, quando ocorreu, não me levou a pensar em transformar esse acaso em trabalho, mas marcou a minha percepção sobre as letras, sobre a impressão de um texto se desprendendo de uma folha. Apenas anos depois (talvez cerca de cinco anos), retomei este material que era uma documentação de trabalho e então fiz as fotos Letras caindo. É como se o acaso trouxesse questões relevantes para pensar o meu trabalho e, antes disto, para fazer o próprio trabalho. Isso não significa que o acaso seja perceptível, embora ele esteja ali, latente como uma memória do próprio processo de trabalho.
Percebo com entusiasmo o trânsito tranquilo que tu fazes de um suporte para o outro, de uma linguagem para a outra: fotografias, mapas, colagens, sobreposições, textos. Queria que tu comentasse o gosto e a possibilidade desse trânsito livre. Houve um momento em que percebeste que esse poderia ser um caminho?
Essa é uma questão importante para mim. Não foi uma escolha deliberada em transitar de um suporte ao outro, mas a necessidade de resolver cada trabalho em sua questão intrínseca, própria a esse trabalho mesmo. Ou seja, não me preocupa muito se um trabalho vai ter como forma final uma fotografia ou uma tipografia, mas sim que a solução formal esteja de certo modo “entranhada” na questão conceitual ou no pensamento envolvido no trabalho.
Então nunca pensei nisto como um caminho a seguir, foi algo que acabou acontecendo em decorrência do desenvolvimento dos trabalhos que fazia e faço. São escolhas conscientes sim, situadas num contexto de arte específico. Sempre acreditei que, em meio à aparente diversidade de referências e suportes, há um “centro” ou um eixo de interesse que é o que realmente importa no trabalho do artista. Através de uma produção aparentemente diversa, torna-se mais evidente quais são as questões do artista – é claro que para isso acontecer é necessário conhecer uma série de trabalhos do mesmo.
No trabalho de conclusão da faculdade, abordei esta questão de como seria possível falar do processo de trabalho do artista criando uma espécie de genealogia desse processo. A maneira que encontrei para tratar desse assunto foi através de gráficos, de desenhos. E, por fim, a imagem de uma espiral dava conta da idéia de que a produção diversa de um artista faz parecer que ele está circulando em campos variados, mas esse movimento indica sempre uma convergência (ou divergência) de um “centro” (ou seja, dessa mesma idéia de que em algum momento se pode perceber a convergência de questões dos trabalhos que são aparentemente distintas).
Na realidade, esse “trânsito entre linguagens” é mais um problema para o mercado do que para o artista. É mais cômodo para o mercado de arte que um artista produza trabalhos semelhantes e facilmente reconhecíveis em sua autoria. Talvez aí ainda resista uma ideia de estilo que é própria da arte moderna. Afinal, o que seria estilo na produção de um artista? A repetição de formas? Ou a persistência de algumas questões?
Parece que o teu trabalho mantém sempre (ou quase sempre) uma proximidade com o desenho. O desenho foi algo determinante no teu percurso? Hoje, o desenho afeta o teu jeito de perceber as coisas?
Certamente o desenho é fundamental em meu trabalho e especialmente em minha formação. É um tema que sempre me interessa estudar e escrever, mas atualmente prefiro não tentar entender o que faço apenas através do viés do desenho – prefiro pensar que outras possibilidades podem me fazer compreender diferentes aspectos dos meus trabalhos.
Quando refiro-me a “desenho” não estou falando de desenho tradicional de lápis sobre papel. Faço referência a uma noção mais ampla, do desenho ligado à formação de um pensamento visual.
Fala-se em “escultura em campo expandido” (referindo a Rosalind Krauss) mas acredito que o desenho tem o potencial de não apenas se expandir como campo, mas de ser entendido como um campo maleável, permeável, poroso. Quando falo em desenho, muitas vezes tenho a impressão de estar falando de pensamento, o que de fato parece pertinente.
Enfim, são questões que desenvolvi durante o mestrado e pretendo dar continuidade no estudo do assunto.
Tudo isso para comentar que o desenho pode ser uma base do meu trabalho – esse desenho que define o pensamento visual (e viceversa). Isso não quer dizer necessariamente que tudo o que eu faça seja desenho.
O desenho está para mim muito próximo do campo das ideias, da formação das ideias e da percepção do mundo, e este processo não é sempre visível ou perceptível no trabalho que é mostrado.
Mencionaste que atualmente preferes pensar que outras possibilidades, além do desenho, podem te fazer compreender certos aspectos dos teus trabalhos. Cita um exemplo.
A representação das coisas do mundo como uma maneira de apreender o mundo. Penso muito nessas representações que conhecemos e em como alguns deslocamentos de seus significados originais podem alterar (mesmo que minimamente) a percepção do mundo que nos cerca.
Falo de representação em seu sentido original (e não necessariamente a questão da representação na história da arte), no sentido de uma relação de correspondência e convenção entre dois elementos. A linguagem é um exemplo disso: se convenciona que um som corresponde a um objeto, que determinado código gráfico corresponde a esse som, enfim, são representações que formam a linguagem. O mesmo no caso dos mapas, como desenhos que reapresentam o urbanismo das cidades ou as formas geográficas de regiões.
Pensar na questão da sobreposição ou cruzamento de duas linguagens distintas que podem criar um ruído entre elas ou formar um outro sentido nesse encontro.
Disseste: “O desenho está para mim muito próximo do campo das ideias, da formação das ideias e da percepção do mundo, e esse processo não é sempre visível ou perceptível no trabalho que é mostrado”. Há algo curioso aí: a possibilidade de o desenho, no contexto contemporâneo, manter ainda viva aquela característica de esboço, de anotação, de rascunho, que foi tão cara à arte desde os primórdios.
Sim, e isso parece ser uma característica própria do desenho. Quando vejo desenhos feitos em qualquer momento da história da arte, tenho a impressão de que eles sempre guardam algo de atemporal, como se os estilos de cada época não “pesassem” sobre os desenhos, como se eles tivessem uma espécie de vida autônoma na história da arte. Enfim, isso é uma impressão minha. Mas o que é fato (e acredito que seja o que me leva a perceber os desenhos dessa forma) é que os desenhos sempre foram ligados ou próximos à ideia, ao pensamento. Isso torna o desenho, de alguma forma, atemporal (quando digo atemporal, não quero dizer que eles não tenham características da época em que foram feitos, mas que eles guardam um certo “frescor”, um caráter de certo modo sempre próximo da contemporaneidade – seja um desenho de Da Vinci, seja um desenho de Ingres, sejam desenhos das cavernas, mesmo que isolados de seus contextos originais, parecem pertinentes aos dias de hoje, e não como uma arte datada em determinada época e lugar).
A palavra escrita – ou, ainda antes dela, a letra – seguidamente aparece como um elemento importante na constituição do teu trabalho. Eu queria saber como isso começou. Lembras qual foi o primeiro trabalho que apontou para essa possibilidade? Como aconteceu? Vem da percepção de que a palavra – ou a letra – é também um desenho?
Os primeiros trabalhos com letras envolviam gelo também, como Caça-nadas, que era um caça-palavras onde as letras de borracha estavam congeladas em blocos de gelo e, a medida em que o gelo derretia, as letras se misturavam e as palavras que se encontravam no início se perdiam. Ou um vídeo de uma letra “E” de gelo coberta de querosene que eu tentava colocar fogo, até que a letra aos poucos se derretia.
Essas foram algumas das primeiras experiências com letras.
Vendo com mais distanciamento, percebo que as questões que me interessam hoje já estavam presentes ali: essa perda de sentido original de elementos conhecidos (como as letras ou palavras), sendo bem importante no trabalho o “como” esse sentido se perde ou é minimamente deslocado. O gelo dava conta dessa “transformação” de um sentido para outro (ou para nenhum), de uma certa organização que se transformava com o derretimento do gelo. Depois fui buscando outras maneiras de tratar as mesmas questões, nem sempre com o uso das letras.
O interesse pelas letras vem sim dessa percepção de que elas são, em sua origem, desenhos. Da percepção de que, quando escrevemos, estamos desenhando. No entanto, são como desenhos esquecidos, pois o hábito faz com que a gente não as perceba mais como desenhos, mas como elementos de uma palavra, formando sentidos e significados, como um código.
Houve ainda o caso, já mencionado, das letras caindo da transparência, durante uma apresentação de um trabalho na faculdade. Por um acaso, as letras começaram a se descolar da transparência, escorregando pela folha e grudando, pouco a pouco, em meus dedos. Se naquele momento a situação foi constrangedora, porque perdia o texto ali, com as letras se embaralhando enquanto tinha que falar sobre o barroco mineiro, foi também uma situação marcante na minha percepção das letras como elementos gráficos, de certo modo sólidos (mesmo que a solidez tivesse a espessura de uma mínima camada de tinta impressa sobre o papel).
Essa situação de algum modo instaurou, para mim, um pensamento em relação às letras.
O mapa, como a palavra, é outro elemento muito caro ao teu trabalho. O mapa é um desenho – um código – que fala da nossa condição no mundo: o que conhecemos, onde estamos, o que nos pertence. O que te levou aos mapas?
Foram as viagens que me levaram aos mapas. Os primeiros trabalhos que fiz com mapas foram durante o período em que estava vivendo em Barcelona (2003-2004).
Foi um período em que comecei a buscar nos mapas um sentido de orientação não apenas no espaço, mas como uma maneira de dar conta de algo maior que era a experiência nas cidades, além da sensação de deslocamento que era constante.
Neste período comecei a colecionar mapas de cidades e também mapas de céu. Se os mapas urbanos demarcam um espaço, os mapas celestes contam sobre o tempo, marcam a passagem do tempo (já que cada configuração do céu corresponde a um período ou momento do tempo). Ambos os tipos de mapas davam conta, de modo abstrato, deste sentido de deslocamento. Talvez seja como uma maneira de marcar um lugar no mundo, uma maneira de perceber uma posição em determinado lugar e tempo.
Nesse período fiz os trabalhos Cidades apagadas (que depois teve um desdobramento em Eclipses, trabalho conjunto com Andrei Thomaz), o Fundo do mundo e os primeiros mapas de cidade desenhados com letras, como Mapa I (Paris).
Depois seguiram-se trabalhos como Tipografia/Urbanização: NYC (também relacionado a outra experiência de viagem) e o Atlas do céu azul.
Os trabalhos que têm como referência manuais de instruções também se relacionam com os trabalhos de mapas, neste sentido de trazer uma visão objetiva e mesmo linear para falar de outro tipo de experiência ou relação com a realidade (como por exemplo, Sentimentos distraídos e Brancusi no ar).
Na medida em que evocam cidades que não existem, ou cidades que foram alteradas, os teus mapas conduzem, por diferentes caminhos, ao tema das utopias – não apenas pela representação de “outros mundos possíveis”, mas talvez, e sobretudo, pelo gosto de se apropriar de um código e dar uma torção nele. Pode ser?
Não costumo pensar em utopias em meus trabalhos, embora talvez seja uma ideia por vezes presente. Mas com os mapas não penso nesse sentido utópico de criar um outro mundo possível não. Para mim, é mais presente a apropriação de um código e nesse deslocamento de sentido que pode ser provocado com essa “torção” do mesmo.
Entretanto, seria ingenuidade pensar que esse deslocamento da representação aconteça sem consequências. Entre o que proponho e o que realizo, surgem espaços de interpretação ou mesmo de sentidos que não previ inicialmente. Por vezes os meus trabalhos me surpreendem abrindo outros caminhos não pensados ou não esperados.
Em trabalhos recentes que tenho feito com mapas, tem sido sim uma questão relevante pensar em um outro urbanismo para as cidades, em possibilidades de jogar com a estrutura das cidades. Ou como no projeto Open horizons. Através do site do projeto, pessoas de diferentes lugares do mundo são convidadas a enviar fotografias onde um horizonte seja visível. As fotos são mostradas no próprio site, alinhadas através dos horizontes, em sequências aleatórias que o são determinas a cada nova visita, ou seja, a cada vez que você visita o site há uma nova configuração de imagens. Esse projeto é, para mim, absolutamente utópico.
Na realidade, a própria concepção de o que é um horizonte já guarda algo de utópico: uma linha que se forma na paisagem, mas que não é lugar algum, que não existe de fato como lugar ou espaço, apenas como ponto de vista em relação à própria paisagem.
No caso dos trabalhos que têm como referências os manuais de instruções, o que te motivou ali?
O que me atrai nos manuais de instruções é a objetividade como as informações são dadas, como ações e significados são simplificados e esquematizados de modo a serem compreendidos com mais rapidez. São desenhos por excelência, que coabitam o campo das ideias – mas num sentido extremamente objetivo, que é o curioso deles.
Lições de escultura: Brancusi no aré uma espécie de manual que ensina a desenhar esculturas de Brancusi com as mãos, mostrando quais seriam os movimentos necessários para representar algumas de suas mais conhecidas esculturas. O formato do Brancusi no aré como o de um “livro de cordel”, aqueles que são vendidos em feiras no Nordeste, pendurados em um fio. Sentimentos distraídos é um cartaz feito para ser distribuído, onde o desenho de um manual de montagem de um carro de brinquedo é cruzado com um texto de outro manual de instruções, que ensina como montar e limpar um motor de carro. Nesse texto, a palavra “motor” é substituída por “sentimento”, dando um sentido nonsense para o texto ao mesmo tempo que remete a conselhos sentimentais. Gosto muito de pensar nesses trabalhos como algo que as pessoas podem ter perto, levar pra casa, ler ou jogar fora.
Esses trabalhos que funcionam como manuais de instruções não chegam a ser engraçados, divertidos, mas guardam um certo humor, um estranhamento, que vem do fato de aquilo não ser esperado onde está. O humor é uma questão para ti?
A pergunta é pertinente sim, mas nunca pensei no humor como um elemento específico do meu trabalho. Acho que questões que são importantes na minha vida acabam transparecendo nos trabalhos, querendo ou não. Seja a relação com os lugares onde vivo ou vivi, livros que li, paisagens que vi. E o mesmo acontece em relação ao humor, ou ironia, como o deslocamento mesmo de se ver algo que não é totalmente esperado em uma situação banal como na leitura de um manual de instruções. De qualquer modo, senso de humor é fundamental em minha vida.
Texto e entrevista realizados para a publicação Lugares/Representações, projeto desenvolvido em 2011, com apoio da FUNARTE.